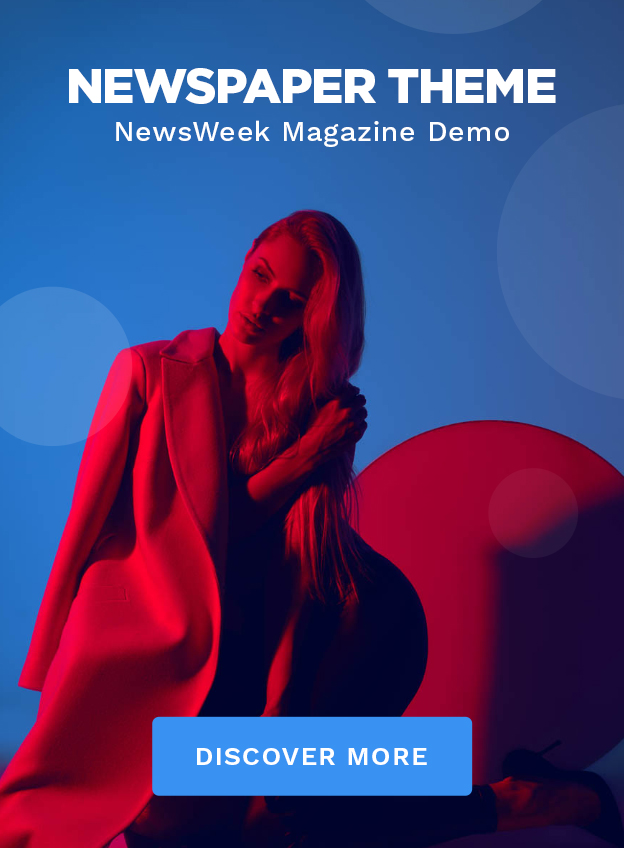Há 10 anos no Brasil, Bruno Speck é professor da Unicamp e coordenador de pesquisa de uma das mais respeitadas Ongs, a Transparência Brasil. Filiada à Transparência Internacional, sediada em Berlim, a seção brasileira foi fundada em 2000. Desde então, a entidade vem divulgando pesquisas bombásticas sobre a realidade eleitoral brasileira. A mais recente, noticiada em novembro deste ano, indica que 19% dos campineiros estariam dispostos a vender seus votos.
O primeiro contato deste alemão com nosso país foi quando ele ainda era universitário: participou de um projeto na Favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. A partir de então, apaixonou-se pelo país, utilizando como substrato de sua tese de doutorado os pensadores tupiniquins. Leia na íntegra a entrevista deste cientista político, um homem comprometido com o combate à corrupção.
Quais são os objetivos da Transparência?
Controle e combate à corrupção! Não atuamos em casos individuais; temos uma abordagem mais institucional do que moralista da corrupção; tentamos estabelecer coalizões entre o poder público, o privado e algumas organizações da sociedade; enfim, tem alguns princípios que a Transparência Internacional prega e que nós subscrevemos.
Qual a avaliação que o senhor faz da pesquisa sobre Campinas que foi divulgada dia 07 de novembro: 19% dos eleitores estariam dispostos a vender seu voto?
O que nós esperávamos na verdade quando falamos do fenômeno da compra de votos, o senso comum nos diz sempre que isto seria das regiões Norte e Nordeste, pessoas pobres, com pouca instrução, etc. Tudo isto nos levou a crer que Campinas, um centro urbano do Sudeste, com índice de desenvolvimento e um PIB acima da média, com todos estes indicadores, acreditávamos que não encontraríamos uma taxa razoável de disposição das pessoas de vender o voto.
Se tem uma hipótese otimista, qual é a pessimista?
É a de que o cabo eleitoral ganharia mais um critério para controlar se a pessoa que ele comprou o voto foi às urnas. Hoje em, como quase todos os eleitores vão às urnas, a fiscalização dos cabos sobre o conteúdo dos votos é um pouco diminuída. Agora, se você cria um voto facultativo, é mais provável que muitas pessoas se abstenham e o cabo eleitoral vai cobrar a ida à urna daqueles que ele comprou o voto. Mas isto no campo especulativo. A cultura eleitoral no Brasil é voto obrigatório há décadas e dificilmente podemos prever o que aconteceria se o voto facultativo fosse instituído.
Esta é a terceira pesquisa que vocês estão fazendo desde a fundação da Transparência Brasil. As outras duas foram aplicadas pelo Ibope e esta última pelo Instituto Ponto de Vista. Por que esta mudança?
Não era uma opção! Ao Ibope nós encomendamos as pesquisas nacionais, e a escolha do Ponto de Vista é que ela atua em Campinas. Além disso, ela é composta por alguns ex-alunos aqui da nossa Universidade e eu dou todo o apoio. Enxergo o trabalho deles como sério, esta proposta de colaborarem com a Transparência nesta área de assuntos que interessam à sociedade. Como a pesquisa foi bem-sucedida, acredito que nós vamos continuar trabalhando com a Ponto de Vista nos próximos meses. Ademais, não há nenhuma vinculação institucional da Transparência com a Ponto de Vista tampouco com o Ibope.
Atualmente, qual o projeto no qual vocês estão mais empenhados?
No momento, estamos procurando investigar e sistematizar o assunto do financiamento político de campanhas eleitorais. Há muitas poucas informações comparativas sobre este assunto. Geralmente, as informações se concentram sobre alguns países europeus ocidentais. Agora, na América Latina, na Ásia, na África, há praticamente nada sobre este assunto. Então, quando entramos em um assunto complexo como este – ou em outro assunto interessante e subinvestigado como as licitações públicas: como são os sistemas de licitações – então fazemos um levantamento, com um balanço, uma comparação das legislações, das instituições que deveriam fiscalizar e coibir estas práticas ilícitas.
E qual sua avaliação sobre este tema específico: financiamento público ou não das campanhas?
Em primeiro lugar é bom esclarecer que não há como diferenciar o que entra para um partido ou para uma campanha eleitoral. Isto posto, eu diria que os sistemas que existem hoje no mundo é um compromisso entre o ideal democrático de um lado e na outra ponta a realidade nua e crua (risos) da campanha de financiamento de políticos e candidatos.
Como é a estrutura de financiamento no Brasil?
Ela é extremamente monopolizada por poucos financiadores. Tanto para os candidatos eleitos e não eleitos a estrutura é a mesma: cerca de metade dos candidatos recebem mais da metade de seus recursos de um único doador. A fonte pode ser diferente: cada um pode ter um banco ou uma empreiteira específica. Mas o importante é a dependência individual de cada candidato em relação ao seu principal financiador.
Quais são as implicações desta estrutura?
Por exemplo, se você empresta mais da metade de seus recursos de uma única fonte, você fica dependente da chantagem, digamos, de possíveis condicionamentos desta pessoa em relação ao seu empréstimo. Então a lógica do argumento é esta. Isto para candidatos a cargos legislativos. Este dado foi levantado por nós, baseados nas eleições do ano passado. Analisamos os dados de cerca de cinco mil candidatos ao cargo de deputado estadual e federal.
Esta situação que o senhor classificou de “exdrúxula” vigora ainda hoje?
Nós da Transparência Brasil estamos procurando acabar com isto. Estamos fazendo um esforço para sistematizar estes números e levar ao público. Elaboramos um website, que se acha www.asclaras.org.br, em que você pode acessar a prestação de contas de cada um dos candidatos, vendo ali quem financiou e quanto. E a partir daí você pode fazer uma crítica dizendo: “- Olha, eu acho que este candidato só declarou
Venda de Votos
A presença do intermediário
Outra questão diz respeito à oportunidade de negociar o voto com um intermediário. Para 15% dos eleitores de Campinas existe uma oportunidade imediata de negociar o voto, uma vez que conhecem diretamente um intermediário. Este (um cabo eleitoral) realiza a barganha entre favores e votos, muitas vezes bem antes da fase da competição eleitoral (gráfico 4). A distribuição é quase uniforme. Vale destacar que o grupo com menor escolaridade, bem como os eleitores acima de 50 anos, informaram ter menos contato com os chamados cabos eleitorais.
A disposição do entrevistado de vender o voto, caso surgisse uma oportunidade, é negada por três entre cada quatro campineiros (76%). Mas, tirando o grupo que não respondeu a esta pergunta, 19% dos entrevistados declaram disposição em vender o voto, caso houvesse oportunidade. Os valores da negociação variam, sendo que 8% venderiam o voto abaixo de 200 Reais e 11% acima desse valor (gráfico 5).
Há variações significativas tanto na rejeição como na aceitação da oferta de vender o voto, dependendo da idade dos entrevistados. Enquanto entre os eleitores jovens (16 a 24 anos) somente 66% rejeitam categoricamente a possibilidade, essa porcentagem sobe constantemente com a idade e chega a 85% entre os eleitores com mais de 50 anos.
No grupo dos entrevistados que venderiam o voto, as respostas positivas decrescem de 17% entre os mais jovens para 3,5% entre os eleitores mais experientes, no caso de ofertas até 200 Reais. O mesmo padrão se apresenta para possíveis ofertas acima de 200 Reais: a aceitação cai de 14% entre os mais jovens para 8% entre os mais idosos. No total 31% dos jovens declaram que venderiam o voto (gráfico 6).
A reduzida variação nas respostas à pergunta sobre a venda do voto em relação ao nível de escolaridade surpreende. Somente entre os eleitores com nível superior completo a taxa da rejeição de qualquer acordo sobe de 70% para mais de 90%. É interessante notar também que, entre os eleitores com menos instrução, a taxa de rejeição situa-se acima da média: 77% (gráfico 7).
A disposição de vender o voto é acompanhada da disposição em realmente votar em quem compra o voto? Somente um entre quatro pessoas que venderiam o voto respondem que votariam no comprador. 55% dos supostos vendedores embolsariam o dinheiro, mas não cumpririam o trato (gráfico 8)
Ocupação cresceu, rendimento ficou estável e diminuiu a desigualdade
O rendimento médio do trabalhador brasileiro estabilizou-se em R$ 733, mesmo valor real registrado em 2003. Essa estabilidade interrompeu a queda de rendimentos que vinha ocorrendo desde 1997. Houve diminuição do grau de concentração da renda do trabalho. Enquanto a metade da população ocupada que recebe os menores rendimentos teve ganho real de 3,2%, a outra metade, que tem rendimentos maiores, teve perda de 0,6%. A parcela dos que ganham até um salário mínimo permaneceu praticamente a mesma de 27,7% para 27,6%.
A taxa de desemprego, de acordo com a pesquisa do IBGE, decresceu de 9,7% para 9,0%, entre 2003 e 2004. O número de novos empregos, em 2004, superou o crescimento da população economicamente ativa (soma dos ocupados e desempregados), estimado em 2.231.719. Em decorrência disso, pela primeira vez desde 1993 houve redução em números absolutos do total de desempregados ( 421.711 pessoas).
O crescimento da ocupação foi maior entre as mulheres do que entre os homens, em 2004. O mercado de trabalho incluiu 1,5 milhão de mulheres, um crescimento de 4,5% em relação ao ano anterior, contra 1,1 milhão de homens. Enquanto a maior parte de ocupações das mulheres corresponde a trabalho doméstico ou trabalho assalariado sem vínculo formal, entre os homens cresceu com mais intensidade o emprego com carteira assinada: 6,7%. Já o desemprego declinou 0,5% entre as mulheres; entre os homens, a redução foi mais expressiva: 10%. Isso se deve ao tipo de postos de trabalho gerados, em especial na indústria, na construção civil e no setor transporte.
O trabalho infantil permanece em queda. A PNAD revela que na semana de referência da pesquisa (19 a 25/9/2004) trabalhavam no Brasil 252 mil crianças de 5 a 9 anos e 1,7 milhão, com idade entre 10 e 14 anos. No período entre 1999 e 2004, o nível de ocupação entre as crianças vem sendo reduzido de forma continuada. A parcela de crianças de 5 a 9 anos ocupadas passou de 2,4% para 1,4%: a de crianças de 10 a 14 anos, caiu de 14,9% para 9,5%. A pesquisa aponta ainda o decréscimo do trabalho entre menores de 5 a 17 anos: 5% entre os meninos (de 19,7% para 14,7%) e de 1,5% entre as meninas (de 10,5% para 8,0%).
Situação educacional
De 1999 a 2004 houve melhoria acentuada no nível de escolarização das crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade. Verificou-se que, de 1999 para 2004, a parcela que não freqüentava escola diminuiu de 29,0% para 18,2%, no grupo de 5 e 6 anos de idade, de 4,3% para 2,8%, no grupo de 7 a 14 anos de idade, e de 21,5% para 17,8%, no grupo de 15 a 17 anos de idade.
Em cinco anos, a inserção das crianças e adolescentes na população estudantil aumentou em todas as regiões e tanto na população masculina como na feminina, embora as taxas de escolarização das mulheres tenham continuado a superar a dos homens.
A taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais de idade caiu de 12,3%, em 1999, para 10,4%, em 2004. Na faixa etária de 10 a 14 anos de idade, em que se espera que a criança esteja pelo menos alfabetizada, a taxa de analfabetismo baixou de 5,5%, em 1999, para 3,6%, em 2004. No Nordeste, esse indicador estava em 12,8%, em 1999, e decresceu para 8,0%, em 2004.
Em termos do nível de instrução da população, no grupo etário de 20 a 24 anos, em que se verifica o máximo deste indicador, o número médio de anos de estudo passou de 7,5 anos para 8,8 anos, de 1999 para 2004.