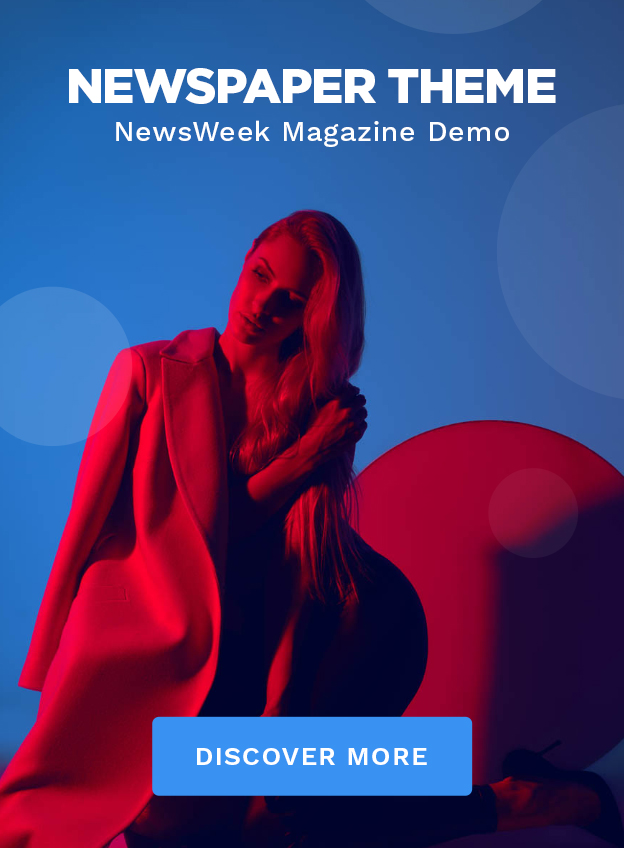Os tantos manuais de redação que pululam por aí têm, lá, a sua utilidade, não nego, mas desde que não descabem para o exagero. Alguns, descambam. A pretensão dos que os elaboraram é a de, se não ensinar, pelo menos direcionar os textos que serão publicados num jornal ou numa revista. Há, alguns, inclusive, que conflitam com a chamada “norma culta” do idioma. Aí já é demais!
A gramática é uma espécie de Constituição dos que têm na escrita o seu ofício. Tudo o que conflitar com o que ela determina, já nasce morto. Ademais, ninguém ensina jornalista algum a escrever. Para isso, ele cursou faculdade. Se, ainda assim, não sabe se utilizar adequadamente da escrita, está em profissão errada. Creio que não haja nenhuma dúvida quanto a isso.
Estas considerações vêm a propósito do que li em determinado manual de redação (que prefiro não identificar qual foi), que “proíbe” o redator de se dirigir diretamente ao leitor, tentando, por exemplo, se antecipar a possíveis conclusões deste sobre determinado assunto que esteja tratando, sobretudo quando polêmico. Numa reportagem, até concordo que não seja de bom-tom. Mas num artigo ou numa crônica?! Ora, que autoridade tem quem determina esse tipo de veto? Quem lhe outorgou a função de “árbitro” do idioma?
Da minha parte, “converso” o tempo todo com o leitor. Posso até ouvi-lo a contestar minhas colocações ou a concordar com elas. Claro que, agindo isso, estou mil anos-luz de ser original. Machado de Assis agia assim bem antes de eu nascer. Basta ler qualquer dos seus romances, em especial “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, “Esaú e Jacó”, ou “Memorial de Aires”. Ou, até mesmo, seus artigos na “Gazeta de Notícias”, suas bem-humoradas crônicas e até muitos dos seus contos.
Em boa parte dos seus textos, quer de ficção, quer de não-ficção, o “Bruxo do Cosme Velho” conversa com o leitor. Brinca com ele, discute, ri, o induz a rir, ralha, adivinha seus pensamentos e se antecipa em criticá-los e elogiá-los, quando for o caso. Claro que não ouso me comparar a Machado de Assis. Minha pretensão não é tão grande assim! Mas nada me impede de trilhar o caminho que ele desbravou.
Mais recentemente, o escritor argentino, Ricardo Piglia, publicou todo um livro sobre o tema, intitulado “O último leitor”. Recomendo a todos que tenham o ofício de escrever que o leiam. Trata-se de leitura imperdível.
Em determinado trecho, Piglia escreve: “Que outro personagem pode interessar mais a um escritor que seu leitor? De quem mais o escritor, como um vampiro que ronda as poltronas, vem sugar o sangue precioso, se não do persistente e silencioso sujeito que lê? É na mente do leitor que a literatura, depois de tanto esforço, enfim ‘toma corpo’. É em seu interior, enfim, que um livro, simples aglomerado de letras mortas, se transforma em pensamento”. E não é?!
Existe, pois, melhor parceiro do que este para um escritor? O que seria de nós, que fazemos da escrita um ofício, um trabalho, nossa forma de ganhar o pão de cada dia, sem esse personagem sem rosto (ou melhor, com milhões de rostos), anônimo, escondido, mas onipresente?
E Piglia conclui: “A leitura não é outra coisa senão uma percepção solitária do real; daí o estado vulnerável, indefeso em que todo leitor sempre se coloca”. Essa vulnerabilidade, por sinal, nos é sumamente familiar. Afinal, não conheço ninguém que escreva que não dedique horas sem-fim à leitura. É quando trocamos de lado. Queiram ou não, todo escritor é, sobretudo, um compulsivo leitor. A recíproca, porém, raramente é verdadeira.
E por que escrevemos tanto e temos tamanha necessidade desse personagem que nos é fundamental e que nos privilegia com a leitura? Apenas por vaidade? Em alguns casos, até pode ser, mas esse componente é mínimo num escritor. Para ganhar dinheiro? Também! Mas não somente por isso.
Recorro, de novo, a Ricardo Piglia para dar a resposta que me convenceu e que sei que o irá convencer, paciente, anônimo e precioso leitor. O romancista argentino escreveu, a propósito: “Scherazade narra para postergar a morte – é isto que, de certo modo, todo escritor faz”. E não é?!
Piglia refere-se, obviamente, à personagem de “Mil e uma noites”, que recebeu ordens de contar uma história a um grão-vizir, ao fim da qual seria executada. Astuta, prolonga sua narrativa por mais de um milhar de dias, ou seja, por dois anos, sete meses e alguns quebrados de dias, e, dessa forma, consegue se safar da execução. Assim somos nós, pobres escritores, que no afã de obter a imortalidade do nome (diante da impossibilidade de sermos, fisicamente, imortais), fazemos nossas obsessivas narrativas, contando, claro, com sua indispensável cumplicidade.
Pedro J. Bondaczuk